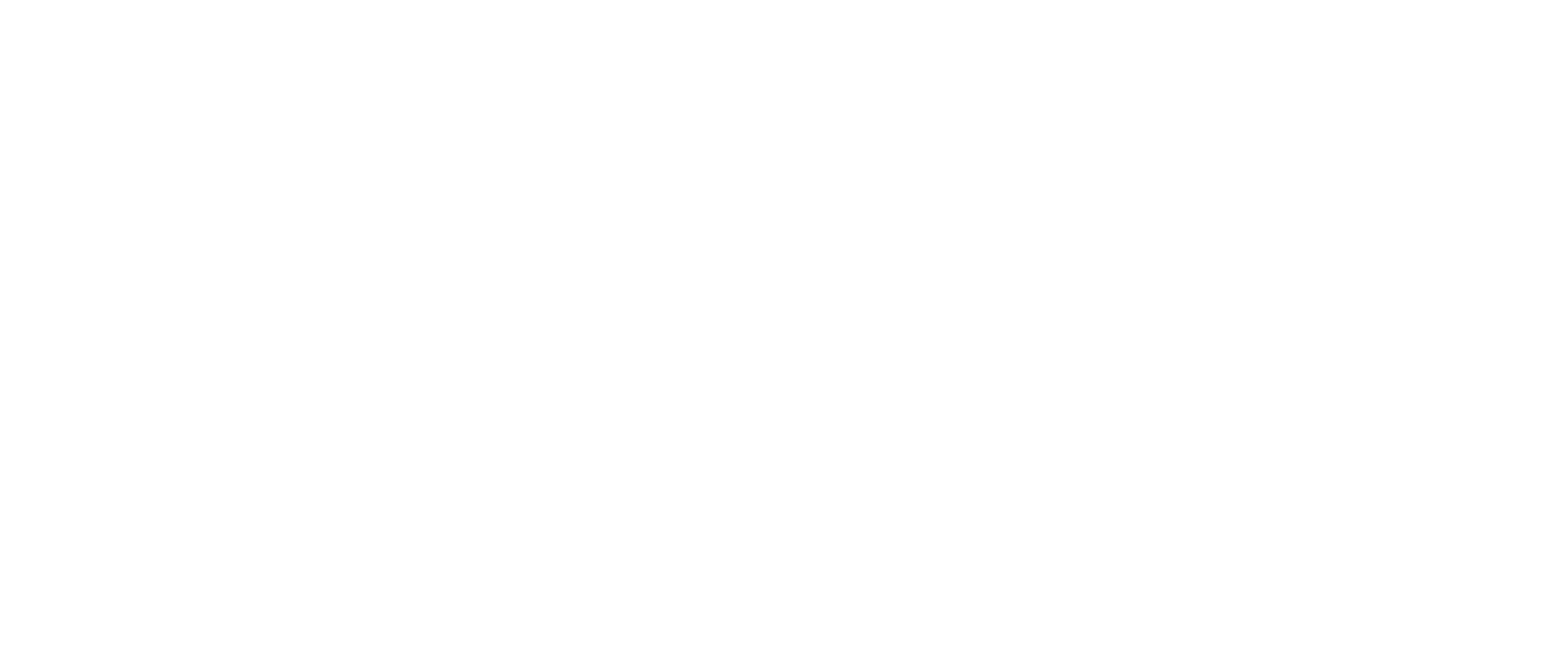Artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo (Maria Cristina Frias | Taís Hirata) e veiculado no site da Interfarma, 24 de abril de 2017).
Para o oncologista Paulo Hoff, os novos medicamentos imunoterápicos, que revolucionaram o tratamento do câncer nos últimos anos, são um fator importante na derrocada final da doença, mas não a solução.
revolucionaram o tratamento do câncer nos últimos anos, são um fator importante na derrocada final da doença, mas não a solução.
Hoff, que é diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira (Icesp) e do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, afirma que nem todos os tipos de tumores respondem ao tratamento, que estimula a resposta imune contra as células do câncer. O custo da medicação, entre R$ 30 mil e R$ 50 mil, é outro entrave importante.
Em entrevista à Folha, ele afirma que é preciso discutir como oferecer esses medicamentos aos pacientes do SUS.
Folha – Qual o papel da imunoterapia no tratamento de câncer e como lidar com o seu alto custo?
Paulo Hoff – O sistema imunológico é feito para atacar o que não conhece, mas o câncer herda a capacidade de não ser reconhecido e sobreviver. A imunoterapia suprime o mecanismo que o câncer usa para afastar o ataque, com efeitos colaterais menos frequentes, embora eles possam ser graves. É um fator importante na derrocada final [da doença, mas está longe de ser um tratamento perfeito e a solução final. Apenas uma fração dos pacientes responde a esses medicamentos. Os tumores com mais alterações moleculares têm mais chance. O mais clássico são os tumores por uso do cigarro. Funciona bem para fumantes e não tão bem para não fumantes. Melanomas têm alta taxa de resposta. Câncer de rim também.
Mas a precificação dos imunoterápicos foi feita de forma muito problemática, a meu ver. O preço de uma droga tem de cobrir o seu desenvolvimento e o de medicamentos pesquisados que não deram certo, além de gerar um valor para o acionista que investiu na empresa farmacêutica. Isso é caro, mas a precificação não segue mais esta lógica. A lógica é quanto o mercado tolera de preço e não quanto vale efetivamente o produto.
Folha – Hoje é tudo importado?
Sim, mas nem os EUA conseguem bancar o custo dessas medicações para todos os pacientes que precisam. A solução não é fácil. Se você é uma empresa com um bom produto, você quer ganhar com ele, gerar lucro para os acionistas, o que é legítimo. O problema é que está sendo demais.
Folha – Há poucas farmacêuticas com essas medicações?
Minha esperança é que esse número tem crescido. No Brasil já temos três desses anticorpos aprovados e outros estão a caminho. A competição do mercado pode ter um efeito positivo. Existe um drama da precificação nos anticorpos, que já têm um custo elevado, e que estão sendo repassados mais altos ainda, e existe um problema também com as drogas moleculares, que são baratas, mas também estão sendo vendidas a um custo elevado. A primeira maneira de reduzir o custo é a competição. A segunda é a definição de quem são os indivíduos que vão se beneficiar.
Temos hoje no Brasil e no mundo a ideia de que tudo é para todos, e utopicamente esse é um conceito interessante, mas, na realidade, talvez devêssemos trabalhar com um conceito diferente: quem precisa, o que funciona. Está muito claro que as terapias atuais têm limitações, não funcionam para todos. Se o custo se mantém, mas a população que recebe é reduzida, limitando-se aos que têm mais chance de ter benefício, o custo cai.
Folha – Quanto custa o tratamento e qual é a demanda?
São tratamentos que vão de R$ 30 mil a R$ 50 mil por mês. A sociedade paga alguns, mas 20 mil pacientes… A demanda cresce dia a dia, e nem todo paciente de câncer responderá àquela medicação, mas as indicações vão aumentando.
A indústria farmacêutica tem de repensar o modelo de precificação. Ela tem um período limitado para ter seu lucro, que é o período da patente. É justo, é assim que se consegue o investimento. Hoje nenhuma instituição de fomento e nenhum governo no mundo consegue investir o que a indústria farmacêutica investe. Simplesmente não teríamos os remédios. O Estado tem de dar a medicação quando realmente houver o benefício, porque essa é uma maneira de reduzir o custo. São mais de 100 mil [que precisam] por ano. Este drama não é só nosso, é do mundo todo. É insustentável.
Folha – Como vê a judicialização?
A judicialização dificulta o planejamento porque há mais de uma via de acesso. A decisão é tomada por alguém que tem pouco conhecimento médico. Há situações em que a judicialização é válida, porque sem ela o sujeito ficaria desassistido, mas às vezes cria-se uma obrigatoriedade de o governo pagar por algo que não faz sentido.
Existe um esforço de criar câmaras técnicas que ajudem os juízes na decisão. É o exemplo da fosfoetanolamina. Os juízes começaram a dar liminares forçando governos a ceder a substância como se ela fosse a salvação. O primeiro estudo mostra que ela não é a panaceia que se imaginava. E o medicamento está sendo distribuído como se fosse curar todo mundo que encosta nele. A distribuição farta pelo Judiciário não seguiu nenhuma lógica científica. A imunoterapia é algo promissor, mas ela tem limitações. Não é a solução e tem um custo que, infelizmente, tem de ser repensado. O conceito de quanto vale prolongar a sobrevida é algo que precisa ser discutido. Uma vida não tem preço, mas tem um custo. Não cabe ao médico individualmente tomar a decisão de quanto vale a pena pagar para que um indivíduo viva “x” meses a mais, mas à sociedade.
Folha – Que instituições hoje têm acesso à imunoterapia?
Todas as instituições privadas no Brasil têm acesso à imunoterapia. As públicas, só com protocolo de estudo clínico ou por judicialização, que dificulta mais a solução do problema. O que for utilizado para cobrir imunoterapia de um paciente será removido do tratamento de outro. A sociedade tem de demandar que o governo discuta em que condições incorporaria [os medicamentos]. E ninguém melhor que os governos para negociar com as empresas um preço melhor, porque têm um volume muito grande. Não sou contra a judicialização, até porque ela força o governo a olhar com mais carinho para o que deve ser incorporado no SUS, mas a judicialização indiscriminada afeta o planejamento. E tudo para todo o mundo é extremamente caro. Os Estados Unidos estão investindo 20% do PIB na saúde, mas não conseguiram universalizar o atendimento, mesmo gastando essa fortuna gigantesca.
Uma coisa é dizer que o SUS não tem condição de oferecer imunoterapia para câncer de pulmão, em que o benefício é menor, mas, no caso do melanoma, em que o benefício é muito grande, há de se fazer uma discussão para ver como incorporar ao menos para parte desses pacientes. Os tratamentos são muito novos, mas há uma população com melanoma que responde em 80% dos casos –em pouco mais de 10% o tumor some. Teremos de ver se isso se sustentará. No câncer de pulmão, o tratamento faz com que os pacientes vivam mais, mas não temos um grande número de casos com cura. E isso nos deixa em situação delicada: a notícia é dada com tanta ênfase que não corresponde à realidade e, em outros casos, talvez falte mais ênfase. Tem situações em que a imunoterapia só prolonga a sobrevida por um curto tempo, e esse custo é difícil de justificar, mas a situação que pode levar à resposta completa e possivelmente à cura tem de ser mais discutida.
Folha – Como é trabalhar ao mesmo tempo no Sírio e no Icesp?
É difícil por serem duas realidades muito diferentes. Em 2007, o Icesp tinha 8 consultórios e 12 vagas de quimioterapia. Conseguimos aumentar muito o volume e atender uma população que antes não sei como era atendida. Hoje temos 130 consultórios e 500 leitos. Acho que aproximamos o tratamento feito no SUS e no sistema privado. Essa aproximação, porém, diminuiu um pouco com a incorporação das drogas de alto custo, mas vamos continuar brigando. Temos defeitos, o PS tem filas, e temos nos esforçado para melhorar. Não é fácil, mas é bom ter as duas perspectivas, porque faz com que busquemos ter no sistema público o que temos no privado.